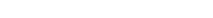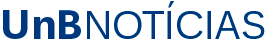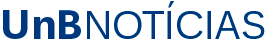Paulo José Cunha
Uma piada anterior à era do Whatsapp pode ajudar a ilustrar a discussão sobre a notícia do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Um rapaz era louco pra levar a moça mais bonita da cidade a um motel. Ela recusava todas as investidas. Mas um dia, cansada, concordou. Deslumbrado com sua beleza, exclamou: “Caramba, quando eu contar ninguém vai acreditar!” E ela: “Não! Não pode contar isso pra ninguém!” Ao que ele reagiu: “Ah, então pode se vestir, vamos embora. Se não é pra contar eu não quero, não tem graça nenhuma”.
Retornemos à dor da realidade. O estupro em si, por revoltante que possa parecer, não parece ter sido o principal nem o único motor da ação dos 30 canalhas que praticaram a selvageria. Isto porque, ultimamente, o prazer sexual não é fruído exclusivamente no ato em si. Para ser completo, há que conter uma segunda condição – a exibição pública do “troféu” conquistado. A divulgação do ato pelas redes sociais conquistou a posição de principal objeto do prazer. O gozo é haurido pela divulgação do ato, não pela sua consecução. Como na piada, o ato nada significa se não puder ser compartilhado. Tal como o pescador que consegue pegar um peixe muito cobiçado, se não se deixar fotografar com ele, não valerá de nada. “Isso é conversa de pescador”. No plano da conquista sexual (veja que propositalmente não estou usando a palavra “sedução”, pois não é o caso), é necessária a exibição pública de foto ou vídeo da presa capturada. Essa exibição, uma espécie de voyeurismo às avessas, é o que proporciona a plenitude do prazer.
Enojante e ultrajante, o crime gera imediata e indignada reação de quantos não se conformam com a “objetização” do corpo. Mas há uma segunda vertente que exige análise e reflexão mais aprofundada de quem lida com a questão da comunicação em tempos de redes sociais turbinadas pela internet.
Quando as ferramentas de comunicação instantânea como o Twitter e o Whatsapp começaram a se popularizar, a expectativa era de que servissem como alternativa ao monopólio de informação das mídias tradicionais. E contribuíssem à democracia e à melhoria dos padrões de convivência e de respeito social. Sim, é verdade, essas redes ajudaram a irrigar os canais de informação, dando voz autônoma a quem não detinha um “mandato” social para informar – os jornalistas e demais comunicadores classificados como formadores de opinião.
Mas não adianta cair no outro extremo – o de satanizar as redes sociais como responsáveis pela elevação das taxas de barbárie. Seria como criminalizar as fábricas de facas pelo aumento dos ataques com armas brancas. Ou atribuir a Santos Dumont a responsabilidade pelos milhares civis mortos nos ataques aéreos. Ocorre que a avassaladora ocupação do espaço social pelas tecnologias da informação não foi acompanhada das medidas educacionais capazes de evitar seu mau uso. Ainda agora discute-se a legalidade do sigilo do Google e do Whatsapp, no caso de informações capazes de desbaratar a ação de grupos criminosos. Igualmente, a popularização e a vulgarização dos aparelhos, hoje em mãos de crianças, de pessoas bem e de cretinos de todos os tipos, não se fez acompanhar das medidas profiláticas. É questão complexa, que vem abrindo debate intenso em escala global, tendo em vista a condição da internet como espaço democrático e que teoricamente deveria permanecer infenso a qualquer forma de censura ou de invasão de privacidade.
Ferramentas como o Facebook vêm servindo à livre circulação de informações que não teriam espaço na mídia tradicional. Mas, principalmente, para abastecer a sede de notoriedade da chamada Sociedade do Espetáculo, na expressão cunhada pelo francês Guy Debord. A necessidade de autoafirmação desbordou do esforço de superação para o reconhecimento ultrarrápido via redes sociais. A necessidade de autoexposição como alavanca de reconhecimento ultrapassou o limite da conquista da notoriedade pelos meios tradicionais – esforço e talento. Agora, até para simplesmente existir, convencionou-se que as pessoas precisam obter reconhecimento no cyberespaço.
No plano da satisfação sexual, convertida em mecanismo de reconhecimento social, a situação é a mesma. Ocorreu um avanço (ou deveria escrever recuo?): não adianta mais apenas estuprar, tem de exibir o produto da canalhice. Uma pesquisa rápida na internet permite aferir a quanto se regrediu na tábua dos valores sociais dignos de respeito e cultivo. Especialistas dos mais variados naipes resumem a reação para conter ou reduzir a degradação dos valores sociais. Ela estaria na ação efetiva de dois estamentos acusados de omissão e conivência: a família e a escola. Com ênfase radical na família, dos dois o mais omisso nos dias atuais. Essa afirmação vai merecer a este autor a pecha de moralista. Mas não é. A conscientização sobre a necessidade da afirmação de tais valores tem de ser vista como um avanço. Aliás, o único possível. O resto é barbárie.