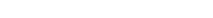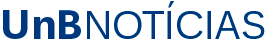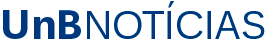José Inaldo Chaves e Bruno Leal Pastor de Carvalho
Em janeiro de 2022, a imprensa divulgou dados de uma pesquisa inédita encomendada pelo Observatório Febraban ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) sobre a percepção que os brasileiros tinham da história e dos símbolos nacionais. De acordo com esta pesquisa, a abolição da escravidão, de 13 de maio de 1888, foi apontada como o fato mais importante da história do Brasil por 31% dos entrevistados. A Independência do país – o 7 de setembro de 1822 – veio logo depois, recebendo o voto de 18% dos consultados.
Ao analisar os dados da pesquisa, Thiago Amparo, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), disse que a permanência do racismo e a difusão do debate racial no país ajudariam a entender porque o 13 de maio de 1888 foi a data mais lembrada pelos brasileiros. Por outro lado, apontou que a Independência do Brasil não parecia despertar o mesmo ânimo porque, ao contrário do que acontecera em outros países latino-americanos, o Brasil teria se furtado ao dever de refletir de modo profundo sobre seu passado colonial, relegando à Independência a marca do continuísmo.
É possível perceber que essa relativa “desidratação” do interesse pela Independência se sedimenta no lugar-comum, atualmente questionado pela historiografia, de que a Independência não passou de um “acordo de gabinete” firmado por elites escravistas das diversas regiões da América Portuguesa. Parte das memórias da gente brasileira parece mesmo considerar que o 7 de setembro não lhe pertence e tem pouco a lhe dizer. Seus objetivos visaram apenas a manutenção das principais instituições coloniais, especialmente a escravidão, garantindo nada mais que uma mudança “do alto”, no comando da antiga colônia. Assim, impediram-se transformações profundas e, principalmente, foram evitadas radicalizações “de baixo”.
Para má sorte da principal data de nosso calendário cívico, Neuma Brilhante, professora e historiadora da UnB, recordou, em entrevista ao portal Café História, que um eficiente e duradouro projeto historiográfico do Estado brasileiro, formulado desde o século XIX e atualizado inúmeras vezes de acordo com as conveniências de poderosos de plantão, ocupou-se em garantir que o 7 de setembro apenas fosse lembrado como sintoma do espírito ordeiro, harmonia racial e acomodação que marcariam nossa formação nacional. Uma independência conduzida por um panteão de heróis brancos e masculinos com baixíssima representatividade social e sem efetiva participação popular. O caldo do desinteresse estava pronto.
Todavia, indo um pouco além nos substratos de nossas memórias coletivas, é possível que a apatia que permeia a data advenha também das frustrações que gerações de brasileiros suportaram desde aquele 7 de setembro de 1822. Democratização do acesso à terra e à educação, participação política com voz e voto, liberdade religiosa, de opinião e de organização, igualdades racial e de gênero, oportunidades para um sustento material digno são alguns desses valores caros ao bem-viver contemporâneo (para usar um belo termo que descende das ciências indígenas) que demoramos demais a absorver e ainda engatinhamos em sua efetivação.
Não seria exagero, então, tratar o 7 de setembro como trauma histórico, uma data a ser lembrada com certo desdém e frustração. Independência de quem? Como uma criança birrenta, viramos às costas a este país inconcluso e interditado de 1822, tantas vezes revivido no presente por nossa economia extrativista e depredatória (ainda tão colonial em alguns setores), pela fome e a miséria obscenas que nos envergonham e pelos autoritarismos que grassam nosso cotidiano. Com a manutenção do racismo em nossas relações sociais, alguns grupos têm ainda mais a lamentar, como os indígenas e as pessoas pretas, alvos preferenciais da violência estatal, da pobreza e do poder econômico.
Contudo, não é apropriado ignorar a existência destes passados-presentes, que costumam nos visitar como fantasmas a nos lembrarem de nossas mazelas e fracassos enquanto povo e nação. Com efeito, deveríamos tomar seriamente a missão de revisitá-los, compreendê-los e, somente assim, dar-lhes um sepultamento adequado, se for o caso. Esse é o trabalho de gerações de brasileiros, inclusive a nossa.
Nadando contra a maré, a historiografia profissional brasileira, dentro de sua função social, vem se esforçando por oferecer alternativas que ajudem nossa sociedade a superar a indigência memorial com que costuma tratar o 7 de setembro e outros processos históricos pátrios. No caso da Independência, isto tem sido feito por meio da recuperação de agências de sujeitos tradicionalmente invisibilizados e de análises mais acuradas, fundadas em pesquisas de ponta, sobre o complexo histórico que vai das décadas finais do século 18 até os anos de 1830, com seus conflitos e contradições.
Sabemos bem que a Independência foi resultado de uma profunda crise política do Império colonial português, arrastado por transformações que aconteciam em várias partes do mundo. Os homens e mulheres do período, muito diferentes dos brasileiros de hoje, não ficaram inertes ou alheios ao que acontecia no mundo. Pelo contrário, elites letradas e políticas leram, vociferaram, protestaram contra ou a favor das “ideias revolucionárias”. O populacho também seguiu caminho semelhante, a partir dos recursos que dispunha.
Leia aqui o artigo na íntegra.
ATENÇÃO – As informações, as fotos e os textos podem ser usados e reproduzidos, integral ou parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada e que não haja alteração de sentido em seus conteúdos. Crédito para textos: nome do repórter/Secom UnB ou Secom UnB. Crédito para fotos: nome do fotógrafo/Secom UnB.