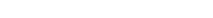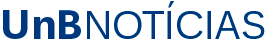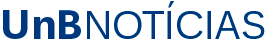Sérgio de Sá
A epígrafe do primeiro livro de Rubem Fonseca é tirada de Lao Tse: “Somos prisioneiros de nós mesmos. Nunca se esqueça disso, e de que não há fuga possível.” Enclausurados, sentimos ainda mais a força dessa afirmação da individualidade. A morte do escritor na última quarta-feira, aos 94 anos, cutuca e avisa que a arte da ficção abre portas para o leitor sair às ruas, olhar, espernear, deambular pelo grande “mundo prostituto”, sem amarras.
A longa trajetória iniciada em 1963 com os contos de Os prisioneiros parece marcada, sobretudo, por esse pacto em torno do prazer libertador da leitura. No corpo do jovem de 15 anos foi uma porrada inédita, única e para sempre, traduzida na delícia do título do romance Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Na alma literária de muitos escritores brasileiros contemporâneos, sente-se até hoje o impacto de tema e ritmo nas linhas.
Rubem Fonseca cometeu vários “crimes” no texto, para lembrar expressão da professora e ensaísta Vera Lúcia Follain de Figueiredo ao analisar a relação da obra com a narrativa policial. A literatura aqui quer falar diretamente com o leitor, sem ter a ilusão de ser capaz de criar realidade que não seja representação. O “assassinato” da realidade baseia-se em enredos bem tramados, usa repetição como estratégia, dialoga com os meios de comunicação.
Quando se pensa no beletrismo brasileiro, eterno incentivador do esotérico, esses eram e são pecados mortais. A crítica costuma se dividir na abordagem dessa abertura possível ao leitor comum. Mas Fonseca provou não ser apenas um Julio Cortázar, isto é, dono de obra que se esgota quase toda na flor de entrada do ímpeto juvenil. Montou aos poucos o mais amplo painel humano de que se tem notícia na literatura brasileira finissecular.
Acima de qualquer suspeita, criou tipos inesquecíveis. Os delegados Matos e Vilela. O advogado criminalista Mandrake. O escritor Gustavo Flávio. Nesses e em outros protagonistas, investigação e literatura se juntam na ficção do autor para interpretar as leis de uma sociedade corrupta e moralmente degradada, um país e uma cidade em particular, o Rio de Janeiro, que não deram certo. “Só rindo”, diria O Cobrador em sua vingança narrativa, assassina de todos que lhe devem tudo.
No trato da violência e do sexo (e da natureza violenta do sexo), Fonseca deu o pontapé na formação de fiéis leitores, chocados esteticamente diante da novidade: o que a literatura era capaz de fazer de modo despudorado! Pelo menos três gerações – anos 1960, 1970 e 1980 – aprenderam com narradores e personagens de seus contos (principalmente) e romances que a vida é surreal e intrinsecamente enigmática. “Macacos me mordam.”
Para rasgar de urbanidade a literatura brasileira – de uma vez por todas –, algo ruim há mesmo de acontecer. A cidade, em condições normais, coloca indivíduos em contato, na casa e na rua. E aí está um dos grandes méritos de Fonseca, a partir da percepção fora do comum sobre um dado humano incontornável: falar, dizer, conversar. A vida em linguagem. Com um metafórico ouvido absoluto, ele construiu diálogos velozes e precisos.
Também compreendeu e realçou, como nenhum outro escritor, o português falado em centros urbanos (carioca somente a princípio). Percorreu dicções particulares do flerte, da paixão, da repulsa, da paranoia, da vingança, da redenção. Se o curitibano Dalton Trevisan criou um mundo-estilo próprio, Rubem Fonseca deu-lhe várias vozes, um coro sem impostação, ambíguo e visceral.
O autor de A coleira do cão, Lúcia McCartney, Feliz ano novo e Bufo & Spallanzani, entre outras obras espetaculares, posicionou-se a meio caminho entre erudito e popular, passeou com desenvoltura por diferentes classes sociais, testou limites de experimentação e comunicabilidade, fazendo com que esta se sobressaísse em nome de uma “grande arte”.
Não é menos verdade que nem tudo escrito por Rubem Fonseca resiste a uma lupa crítica rigorosa, especialmente desacertos como O selvagem da ópera e a produção bastante irregular dos últimos anos. Nada que lhe tire o brilho intenso, é bom frisar. Não se lhe arranca assim, sem mais nem menos, a honestidade da escrita em comunhão com o leitor, sobre o fio de uma navalha afiadíssima.
Como repórter de cultura, num passado quase remoto, nunca tive a chance de encontrar o recluso Rubem Fonseca, tampouco recebi mensagens ou livros autografados como alguns amigos que tiveram essa sorte generosa. Dele, guardo o coração palpitante de poder vê-lo e ouvi-lo, por acaso, na Casa das Culturas do Mundo, em Berlim, no começo dos anos 1990.
Ele dividiu mesa com Caio Fernando Abreu. Já não recordo exatamente a pergunta feita ao escritor gaúcho. Sei que a resposta veio na forma de uma canção de Caetano Veloso: “Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel/ Uma mulher, uma beleza que me aconteceu...”. Caio puxou e Rubem certamente balbuciou ao ouvido da plateia: “Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu/ Me falou que o mal é bom e o bem, cruel”.
Nada mais fonsequiano: a beleza de uma mulher expressa o que não se espera, o que não se aguarda na comodidade do cotidiano. O corpo do texto rasga o óbvio da realidade. E a chegada da morte do escritor, se fôssemos uma nação grata, invadiria a língua portuguesa de tristeza e luto. Por enquanto, somos apenas prisioneiros de nós mesmos e de nossas páginas viradas.
Publicado originalmente no Estado de Minas em 17/4/2020