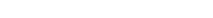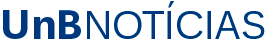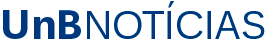Kelerson Semerene Costa
A Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo há 50 anos, é um marco das inquietações contemporâneas sobre a conservação da natureza. A Conferência não deu origem a essas inquietações; antes, resultou de reflexões e movimentos críticos anteriores. Mas o seu alerta para os limites naturais do crescimento econômico impulsionou ações governamentais, movimentos sociais, partidos políticos e estudos científicos nas últimas décadas.
Assim como outras áreas do conhecimento, a história também acolheu essas preocupações, dedicando-se a estudar as relações entre as sociedades humanas e a natureza, em diferentes períodos. Os estudos têm, basicamente, duas matrizes. Uma delas, a Escola dos Annales, inspirada na obra de Fernand Braudel e em temas e abordagens da geração mais recente. São estudos que, ao se ocuparem da história social ou das mentalidades, incorporam questões ambientais como nova forma de acesso a questões já consagradas pela historiografia.
A outra matriz é a environmental history, de origem norte-americana. O que identifica as pesquisas nessa linha é uma grande preocupação com a compreensão dos ecossistemas originais das regiões estudadas e o acompanhamento das transformações que eles sofreram paralelamente ao desenvolvimento das populações humanas, apoiando-se em conhecimentos específicos das ciências da natureza.
É a environmental history, ou história ambiental, que mais tem influenciado os historiadores brasileiros que se dedicam ao tema. Mas esse campo de estudos conheceu, entre nós, desenvolvimentos independentes das correntes internacionais. É o caso da obra de Paulo Bertran que, em História da terra e do homem no Planalto Central (1994), concebeu uma “eco-história do Distrito Federal”.
Antes, porém, de franceses, norte-americanos e brasileiros, foi o britânico Arnold Toynbee um dos primeiros historiadores de ofício a colocar em questão o futuro da humanidade e da vida na Terra, incorporando o conceito de biosfera – limite físico para a existência da humanidade – aos estudos de história. Toynbee considera o Homem como a “primeira espécie de ser vivo em nossa biosfera que adquiriu o poder de destruí-la”. Em A humanidade e a Mãe-Terra, escrito nos primeiros anos da década de 1970, logo após os primeiros passos do homem na Lua e no calor das promessas de colonização de novos mundos – das quais ele duvidava –, depois da publicação dos relatórios do Clube de Roma e da Conferência de Estocolmo e no auge de uma crise energética mundial, Toynbee reafirma a ideia de que a biosfera da Terra é o limite para a história humana e conclama a nela concentrar esforços: “estudar sua história, prever suas perspectivas e fazer tudo o que a ação humana puder fazer para garantir que esta – que, para nós, é a – biosfera permaneça habitável até que, com o passar do tempo, se torne inabitável em virtude de forças cósmicas além do controle humano”.
E conclui com a indagação que ainda nos assombra, neste 5 de junho: “Assassinará a humanidade a Mãe-Terra ou a redimirá?”.