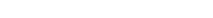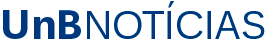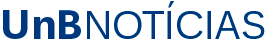Flávia Mazitelli de Oliveira e Silvia Badim Marques
A mutilação genital feminina (MGF) ocorre quando há a remoção parcial ou total da genitália feminina externa. A prática é descrita como "um procedimento que fere os órgãos genitais femininos sem justificativa médica”, motivado por razões religiosas, culturais, sociais e psicossexuais. O dia 06 de fevereiro, Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genita Feminina, busca promover discussões e sensibilizar a sociedade em busca de sua erradicação.
A MGF ocorre principalmente em 30 países na África, no Oriente Médio e Ásia, mas devido aos processos de migração, pode ser encontrada na Europa Ocidental, Autrália, Nova Zelândia e América do Norte. Na América Latina, há registros de casos na Colômbia e Amazônia Peruana. Em alguns países, chega a afetar 90% das meninas, como na Somália e, embora recentemente tenha sido considerada ilegal em alguns países, como na Guiné-Bissau, sua redução tem sido muito lenta.
Atinge cerca de 200 milhões de meninas e mulheres e pode ter como objetivo: marcar um ritual de passagem, controle social, reduzir o desejo feminino, prevenir relações extraconjugais, evitar que o crescimento da genitália feminina prejudique o prazer masculino e assegurar a virgindade. Todas essas causas, de origem cultural, evidenciam o domínio patriarcal sobre o corpo das mulheres, mutilando-as para que se adequem a imposições sociais que buscam controlar seus corpos, seus desejos e reprimir uma prática sexual que tenha como foco o prazer feminino, subjugando-as, cruelmente, à satisfação e controle dos homens.
Existem 4 tipos mais prevalentes de MGF: a remoção parcial ou total do clitóris e da pele no entorno, a remoção parcial ou total do clitóris e dos pequenos lábios, o corte ou reposicionamento dos grandes e dos pequenos lábios, que inclui costura para deixar uma pequena abertura e a perfuração, incisão, raspagem e cauterização do clitóris ou da área genital. Em todos os casos, a prática é extremamente dolorosa e realizada sem qualquer cuidado médico e de higiene, gerando risco de infecção.
Em muitos casos, o fechamento da vagina e da uretra deixa as mulheres com uma pequena abertura pela qual passam o fluido menstrual e a urina. Posteriormente, para que a mulher consiga ter relações sexuais ou até mesmo um parto, é preciso abrir novamente, o que pode causar complicações tanto físicas quanto mentais.
Ainda que defendida por alguns pelo multiculturalismo, por representar uma prática não ocidental arraigada em muitas sociedades não ocidentais, a MGF é reconhecida mundialmente como uma forma de violência de gênero e uma grave violação dos direitos humanos. Intrinsecamente às suas justificativas ritualísticas e culturais, há o desejo de submeter os corpos femininos às normas sociais, privando meninas e mulheres de exercer a autonomia sobre o próprio corpo, perpetuando a desigualdade de gênero e fortalecendo a estrutura patriarcal.
Em pesquisa realizada pela Unicef, a maioria das meninas e mulheres é contrária ao procedimento nos países em que ele é comum. Contudo, com receio de serem excluídas socialmente e terem seu acesso limitado às práticas culturais, como o casamento, muitas delas, ainda que contra sua vontade, se submetem à mutilação. Em um importante movimento de resistência, muitas mulheres que sofreram a MGF tem criado coragem para denunciar os horrores desta prática e as graves consequências para as suas vidas, como a ativista Bishara Sheikh Hamo, da comunidade Borana no Quênia, que foi submetida à mutilação quando tinha 11 anos, ensinada que esta prática a tornaria pura.
A despeito de práticas culturais, mas respeito à diversidade cultural e a culturas não ocidentais, precisamos lutar pelos direitos humanos e nos posicionarmos radicalmente contrárias, todas e todos nós, a práticas que colocam em risco à vida, à saúde e o bem-estar das mulheres.
Clique aqui para ler o artigo na íntegra
ATENÇÃO – O conteúdo dos artigos é de responsabilidade do autor, expressa sua opinião sobre assuntos atuais e não representa a visão da Universidade de Brasília. As informações, as fotos e os textos podem ser usados e reproduzidos, integral ou parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada e que não haja alteração de sentido em seu conteúdo.