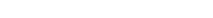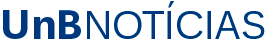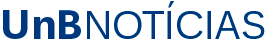Alexei Alves de Queiroz
Em 12 de fevereiro de 1929, terça-feira de carnaval, a coluna diária Correio Musical do jornal carioca Correio da Manhã discorreu sobre a tal “música de carnaval”, e proclamou para um mundo em acelerada transformação modernizadora que “hoje essa festa é verdadeiramente patriótica e nacional. O brasileiro já não é mais o povo ‘essencialmente agrícola’ (…) tornou-se ‘essencialmente carnavalesco’”. Ao leitor do século XXI pode parecer que estamos diante de um grande elogio à cultura popular, mas foi este uma exaltação ao carnaval, por associá-lo à nação, ou se tratou de uma critica à nação por associá-la com o carnaval? É preciso reler a frase com os olhos de 1929.
A mídia impressa, infelizmente, não é capaz de registrar a expressão de ironia no rosto do autor, mas o resto do texto o denuncia. Não, esta ainda não foi uma voz patriótica, a glorificar a cultura festiva do povo. Também não foi a previsão de um vidente futurista, a perceber a escala que esta festa popular tomaria nas décadas seguintes neste país. Proclamada ao fim de uma era, esta foi a voz do passado colonial agrícola, a ridicularizar nosso terceiro-mundismo. Nosso atraso essencial. O sarcasmo, pois, era um dos estilos favoritos no jornalismo da época, onde o caos do carnaval frequentemente explicava nossa incapacidade de acompanhar o desenvolvimento europeu. O samba, uma metáfora usada para ridicularizar políticos e instituições. Entretanto ele faria como o arqueiro, que antes de disparar sua flecha, estica o arco puxando a pena bem junto ao seu coração. Haveria, pois, de elogiar antes de golpear. O carnaval era, segundo ele, antigo, tradicional e alegre, e como atestado de validade apontou duas peças do repertório europeu cuja temática se refere ao evento: o Carnaval de Veneza e o Carnaval de Schumann. A arte valorizava aquilo que retratava. Este autor anônimo argumentou que a festividade havia se tornado um “símbolo” do Brasil, embora nem soubesse ele o que seria uma “escola de samba” já que o primeiro desfile aguardava ainda alguns anos no futuro para acontecer. Ao final ele parece se dar conta que a música carnavalesca propriamente dita, aquela que era tocada nas ruas do Rio de Janeiro, não foi comentada por ele, e diz o autor conclusivamente “ainda não falamos da música do carnaval, único assunto que nos devia interessar nessa seção. Valerá a pena tratar disso? Não. A pobreza da inventiva melódica e harmônica, a banalidade das letras não convida a encher espaço com tão ingrato assunto”. A flecha foi disparada nas últimas linhas. O autor julga talvez ter desferido um golpe fatal, mas não produziu nem arranhão.
Um dos grandes prazeres do historiador que lê jornais antigos é observar vozes do passado falando coisas sábias, ou grandes bobagens. De certo modo esse autor fez ambos. Sim, ele estava mais certo do que imaginava quando dizia, com ironia, que esta havia se tornado a “república carnavalesca”, e até os dias de hoje, todo ano o noticiário de vários países do mundo exibe imagens do desfile na Marquês de Sapucaí para informar ao seu surpreso público não-brasileiro que, de fato, é carnaval novamente. Mas diante das impressionantes criações musicais dos sambistas dos anos 1930, 1940, 1950, quem poderá hoje falar em “pobreza da inventiva melódica e harmônica” do samba senão alguém com grave caso de “doença no pé”?
Fica, pois, o alerta. Complexidade é coisa que precisa ser procurada para ser detectada. Quando não se quer vê-la, ela desaparece. A revolucionária sofisticação rítmica da música do povo estava pronta a desfilar diante deste autor em absoluta transparência, como o homem invisível. É fácil, portanto, usar a simplicidade para justificar um desejo de não estudar um fenômeno. Para poder desprezá-lo, pois, é preciso desconhecê-lo, mas para desconhecer, é preciso também desprezar.
ATENÇÃO – O conteúdo dos artigos é de responsabilidade do autor, expressa sua opinião sobre assuntos atuais e não representa a visão da Universidade de Brasília. As informações, as fotos e os textos podem ser usados e reproduzidos, integral ou parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada e que não haja alteração de sentido em seu conteúdo.