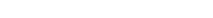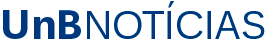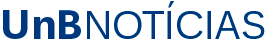Edergênio Negreiros Vieira
O ano era 1950. O Brasil, então palco da grandiosa Copa do Mundo, estava prestes a receber Katherine Dunham, uma renomada dançarina, coreógrafa e diretora estadunidense. Fundadora do Ballet Nègre e pioneira no estabelecimento de um conjunto de balé para pessoas negras nas Américas, Dunham chegaria ao país com uma reputação imponente. No entanto, desafiando as inverdades propagadas pelo Estado e por uma parte significativa da intelligentsia brasileira – que pintavam o Brasil como um "Éden multirracial" ou, segundo alguns sociólogos, o "país da democracia racial" –, Katherine Dunham foi proibida de se hospedar em um hotel de luxo na cidade de São Paulo.
O incidente chocou. O caso ganhou as manchetes dos jornais de Bruzundangas1 (termo que faz alusão ao país fictício de Lima Barreto, usado para satirizar as mazelas brasileiras), e foi destaque em veículos importantes da imprensa negra. Na estreia de sua companhia no Teatro Municipal de São Paulo, em 11 de julho de 1950, a própria Katherine Dunham denunciou publicamente o ocorrido aos jornalistas. Imediatamente, ativistas e intelectuais uniram-se a ela, repudiando o caso de discriminação racial e cobrando do Estado ações concretas para coibir o preconceito racial e de cor no Brasil.
Foi nesse contexto de denúncia e luta contra as práticas discriminatórias que o Congresso Nacional aprovou uma lei para tipificar o preconceito racial como contravenção penal. Sancionado em 1951, o instrumento jurídico ficou conhecido como Lei Afonso Arinos, em homenagem ao seu autor, o então deputado federal udenista de mesmo nome. Essa lei representou o primeiro mecanismo de ação jurídica do Estado brasileiro a classificar a prática do racismo como crime.
A inefetividade e a evolução legislativa
Apesar de ter entrado em vigor, a Lei Afonso Arinos não teve a efetividade esperada, notadamente pela ausência de condenações. Esse fato impulsionou diversas alterações na legislação ao longo dos anos, culminando na atual Lei nº 14.523, que equiparou a injúria racial ao crime de racismo.
O Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial surge precisamente nesse contexto de reivindicação histórica, política, social e cultural. Setores majoritários da sociedade brasileira, que denunciam a farsa do mito da democracia racial, utilizam essa data para cobrar ações mais contundentes do Estado no combate ao racismo. Em 2025, o 3 de julho assume um significado ainda mais especial, pois, embora a data se refira a uma realidade nacional, o racismo — como fenômeno social e tecnologia de poder político usado para privilegiar e falsamente legitimar a exclusão, a discriminação e o extermínio — vem sendo alimentado cada vez mais ao redor do mundo, seja nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia ou África.
No cenário nacional, somos confrontados diariamente com inúmeros casos de injúria racial e discriminação, que, longe de serem isolados, revelam uma estrutura perversa. Aliado a essa realidade cotidiana, pesquisas que analisam questões estruturais brasileiras demonstram que o grupo racial de pardos e pretos (negros), apesar de constituírem a maioria da população (55,5%, segundo o IBGE de 2022), ainda sofrem com um notório déficit de cidadania.
Na educação, apesar dos tímidos avanços, especialmente impulsionados por políticas de ações afirmativas de ingresso e assistência à permanência em espaços outrora majoritariamente ocupados por brancos, ainda há muito a ser feito. A Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira no currículo da educação básica, não é cumprida em 71% dos municípios brasileiros, conforme pesquisa do Geledés e Instituto Alana.
Avançar em políticas que freiem o extermínio da juventude negra – que, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2025), são os que mais morrem assassinados no Brasil –, garantir a universalização da Lei 10.639/03, e fortalecer e ampliar políticas públicas de Estado são condições indispensáveis para que o Brasil avance enquanto nação e se constitua como uma verdadeira democracia racial, digna desse nome. Oxalá.
1. Bruzundangas é um país fictício criado pelo escritor brasileiro Lima Barreto em sua obra satírica "Os Bruzundangas", publicada postumamente em 1922. Através da descrição desse país imaginário, Lima Barreto expõe e ridiculariza as mazelas do Brasil de sua época, que, lamentavelmente, muitas vezes ainda ressoam na realidade atual.
ATENÇÃO – O conteúdo dos artigos é de responsabilidade do autor, expressa sua opinião sobre assuntos atuais e não representa a visão da Universidade de Brasília. As informações, as fotos e os textos podem ser usados e reproduzidos, integral ou parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada e que não haja alteração de sentido em seu conteúdo.