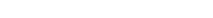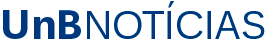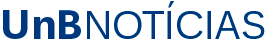Autonomia financeira, afirmação, enfrentamento ao racismo, demarcação de território. Demandas específicas que carregam, em comum, a luta constante por reconhecimento e respeito. Histórias que não entram em amostra probabilística, mas que representam a vida de tantas mulheres. Desafios para se construir uma UnB Mais Humana.
Elza Rodrigues tem 45 anos de idade e há quatro é colaboradora terceirizada da Universidade de Brasília. Casou-se aos 18, com um homem 15 anos mais velho, e logo teve seu único filho, a quem dedica a vida. “Ele faz tudo por mim e eu faço tudo por ele. E se você falar alguma coisa dele, brigo com você”, gargalha.
Nos primeiros dez anos de relacionamento – que durou mais de duas décadas – Elza não trabalhava fora de casa. “Meu marido me dava o que eu precisava, mas eu queria ter meu dinheiro. Então, comecei a fazer bicos, principalmente como doméstica, tudo sem carteira assinada. A UnB é meu primeiro emprego fichada”.
A trabalhadora da equipe de conservação e limpeza passou a suspeitar de traições do marido. Prometeu para si mesma que buscaria um emprego fixo para, então, deixar o companheiro. Divorciou-se há três anos. “Comecei a desconfiar, brigava muito com ele. Eu ouvia piadinhas na rua, as coisas estavam ficando sérias e envolvendo meu filho. Foi difícil, mas não me arrependo. Principalmente quando vejo minha casa, minhas coisas arrumadinhas. Hoje eu faço tudo o que quero”.

Elza mora no mesmo lote que a mãe e os irmãos. Com merecido orgulho, faz questão de ressaltar que construiu sua própria casinha. Além da dedicação ao filho, ajuda nos cuidados com mãe, por quem tem o maior respeito. “Ela é bem velhinha, tem problema no joelho, diabetes, mas consegue fazer as coisinhas dela”, relata.
Para complementar a renda, a terceirizada vende roupas e cosméticos. Não fuma, não bebe, não gosta de baladas. A diversão é sair, de vez em quando, com amigas do trabalho. Uma de suas principais dificuldades é vencer a timidez. “Não sei ler e escrever direito, não sei falar direito, tenho vergonha de tudo o que você imaginar. Mas eu sou muito alegre, é só me dar brecha”.
Felicidade é, inclusive, condição de vida para Elza. Supera o medo de andar sozinha na rua para vir ao trabalho, de ser assaltada na parada de ônibus, de perder o emprego ou de acontecer algo com seu filho. “Já sofri demais. Agradeço o que tenho hoje, porque me basta para viver. Ajudo minha mãe, meu filho, meus irmãos. E somos unidos”.
IDENTIFICAÇÃO – Lançar o olhar para as trabalhadoras negras terceirizadas da UnB foi o caminho que Marjorie Chaves escolheu para sua pesquisa. A doutoranda em Política Social (PPGPS/SER) ressalta que essas mulheres não são objetos de estudo, e, sim, sujeitas e protagonistas de sua análise.
“Sou negra, trabalhei como terceirizada em um ministério e buscava um tema com o qual me identificasse. Então, optei por dialogar com essas mulheres sobre a nossa participação no mercado de trabalho, bastante desigual no Brasil. É a população negra feminina que ocupa maior parte dos postos subalternizados e de menor prestígio social. E essas relações díspares estão do nosso lado”, pondera.
Os dados da pesquisa de campo revelaram à doutoranda que essas mulheres são conscientes do lugar subalterno no qual são colocadas e se queixam da discriminação na própria Universidade. “Há relatos de assédio moral nas relações de trabalho e de situações de discriminação racial e pela função que realizam”, exemplifica.

Marjorie foi criada em Sobradinho. Filha de artesã e eletricista, estudou toda sua vida em escola pública. Entrar para o ensino superior era um sonho de toda família. “Eu não tinha base para o vestibular em uma universidade pública e a UnB era totalmente fora do meu contexto e dos meus sonhos, situação comum para os jovens da periferia. Fui trabalhar para pagar minha licenciatura em História numa instituição privada”, conta.
Após o incentivo de um professor, Marjorie fez a seleção para a pós-graduação na UnB. “Era difícil me reconhecer nesse espaço. Estudava com pessoas que tinham feito intercâmbio em Paris, em Londres. Eu, no máximo, fazia o trajeto de Sobradinho para a Asa Sul. Trabalhava, meu salário era baixo, tinha que compensar o horário das aulas. Foi pesado e sofrido. Demorei a entrar para o doutorado porque achava que esse lugar não era meu”, revela.
Marjorie passou por momentos difíceis durante o doutorado e faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico. “A cobrança é muito grande. Minha saúde mental ficou comprometida. Não consegui terminar a pesquisa, a vigência da bolsa terminou. O ambiente universitário mudou muito, mas ainda é hostil para os negros e para quem estuda questões raciais. Passamos por muitas formas de silenciamento”, desabafa.
Atualmente, é professora voluntária na UnB, além de prestar consultoria para o Observatório da Saúde da População Negra, vinculado ao Núcleo de Estudos em Saúde Pública (Nesp/Ceam). Pretende seguir no campo da pesquisa e almeja a carreira docente. “Meu progresso pessoal é vitória coletiva de mulheres negras”.
EXEMPLO – Deborah Santos personifica a exceção estatística: é uma das poucas professoras negras da Universidade de Brasília, a única entre os docentes do Departamento de Museologia (FCI). “Falta vivência racial na universidade. Os textos, por exemplo, são escritos por brancos. Há divisões claras nos cargos de poder. Se nossa história é baseada na dominação sobre o negro e isso é estruturante da sociedade, é preciso treinar o olhar para enxergar os preconceitos que a gente carrega e, assim, reconstruir os discursos”.

Antes de entrar para o quadro efetivo da UnB, Deborah atuou no Ministério da Educação, prestando consultorias sobre questões de gênero e raça, inclusive, para o acompanhamento da implementação de cotas em instituições federais de ensino. Também foi professora substituta na Universidade e coordenou um núcleo de promoção da igualdade racial, vinculado, à época, ao Decanato de Extensão.
“Após colocarem fogo na porta de três apartamentos da Casa do Estudante, nos quais moravam africanos, assumi essa coordenação com a missão de implementar uma política de combate ao racismo e à xenofobia na UnB. Continuei com essa tarefa, mesmo que em cargos diferentes, até ser aprovada para professora em 2010. Então, decidi que meu caminho era formar alunos, incentivá-los a fazer pesquisa sobre questões raciais e contribuir para a produção de conhecimento desta temática.”
A docente está de licença da UnB para cursar o doutorado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia (ULHT), em Portugal. Pesquisa identidade e representação das mulheres negras em três museus afro-brasileiros: Museu Comunitário Treze de Maio (Santa Maria, RS); Museu Capixaba do Negro (Vitória, ES); e o museu do Quilombo do Mesquita (Cidade Ocidental, GO).
Viveu vários e nítidos casos de racismo em sua trajetória. As duas vezes que precisou fazer exame admissional para a UnB – primeiro para professora substituta, depois para efetiva – foi mandada para o setor que realiza o procedimento para as trabalhadoras terceirizadas dos serviços de limpeza e conservação.
“A cor da pele tem significado. Sempre nos passam a impressão de que ‘aqui não é seu lugar’. Já cheguei para ministrar palestras, me mandaram sentar junto ao público e depois ficaram procurando o palestrante. Certa vez, estava no hotel usando o computador da área comum e uma senhora me cutucou, pedindo para que eu buscasse uma toalha para ela. Em outra situação, pedi um gás e o entregador, quando me viu, perguntou: a patroinha está?”.
Apesar das dificuldades, a docente acredita na educação como ferramenta para transformar vidas. “Há coisas boas acontecendo. Tenho, por exemplo, uma aluna de São Sebastião, cuja mãe é doméstica e o pai, ajudante de limpeza. Hoje ela está na Colômbia fazendo intercâmbio. E vai voltar com outra visão de mundo, com novas e ricas experiências”.

DESAFIOS – Discriminação e preconceito são barreiras que Braulina Aurora enfrenta cotidianamente. Indígena do povo Baniwa, a estudante de Ciências Sociais é natural de São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do estado do Amazonas, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela.
“As pessoas não conhecem nossas histórias. Acham que indígenas não devem ter acesso à formação superior, à tecnologia. Ficamos muito tristes quando ouvimos que índio é aquele que usa tanga e cocar de pena. Decolonizar esse pensamento é luta constante. Temos indígenas doutores, professores indígenas nas universidades, mulheres indígenas se tornando doutoras, médicas, enfermeiras. Ocupamos muitos espaços de voz e decisão”, elenca.
Braulina entrou na Universidade de Brasília em 2013, por meio do vestibular indígena. Reconhece com muito orgulho a recente retomada desta modalidade de ingresso na UnB, pois, em sua visão, o ambiente universitário representa inúmeras conquistas.
No entanto, posiciona-se criticamente em relação à pouca participação indígena nas políticas de inclusão da Universidade. “Somente quando protagonizarmos os processos, poderemos dizer que as políticas foram construídas junto com Estado, universidades e departamentos”, enfatiza.
A demarcação do território é, atualmente, a principal bandeira das mulheres indígenas, segundo Braulina. Em sua análise, a não demarcação gera inúmeros conflitos e aumenta a criminalização dos povos indígenas. “É pelo território que geramos e transmitimos conhecimento, que podemos ter a formação tradicional ou ancestral e reivindicar educação e saúde de qualidade. E nós, mulheres, aos poucos estamos tendo voz e participação nos espaços de decisão, nos empoderando, compartilhando informação com nossas avós, tias e demais parentes”, afirma.
UnB POR ELAS – Integrando as ações de valorização da história da Universidade de Brasília e de quem ajuda a construir uma UnB Mais Humana, a Secretaria de Comunicação lançou esta série especial que aborda o protagonismo feminino na instituição. Toda quinta-feira do mês de março foi publicada uma reportagem inédita, com o objetivo de traçar um panorama sobre as políticas institucionais de apoio e proteção ao direito das mulheres, além de contar as trajetórias de alunas, técnicas, professoras e trabalhadoras terceirizadas e seus dilemas em busca de equidade de gênero.
>> UnB por Elas: em busca de equidade