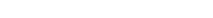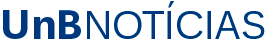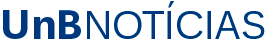Alberto Veloso
Gerações futuras deverão continuar relembrando o 6 de agosto de 1945, data indelével na história da humanidade. Naquela manhã explodiu sobre Hiroshima a primeira bomba atômica e, três dias depois, outra em Nagasaki, praticamente dando fim à guerra que se desenrolava no Pacífico. Cerca de 200 mil pessoas morreram em consequência daquelas ações.
Uma arma tão poderosa nas mãos dos Estados Unidos logo despertou o interesse de outras nações. Passados quatro anos (29/8/1949), a antiga União Soviética conseguiu a sua e, seguidamente, a Grã Bretanha (1952), a França (1960) e a China (1964). Como resultado, essas nações formaram um “restrito clube atômico” onde novos sócios não são bem-vindos. Índia e Paquistão (1998) e Coreia do Norte (2006) também obtiveram suas bombas, mas não o status político dos cinco primeiros, que são os únicos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto sobre qualquer resolução que venha a ser proposta pelo conselho, que também possui membros não permanentes, escolhidos na forma de rodízio.
Construir bombas mais poderosas e sofisticadas exigia testes e os primeiros eram feitos na atmosfera, explodindo artefatos acima de torres, em balões, ou desde aviões. O número de explosões cresceu de forma alarmante. Acidentes e a elevada contaminação atmosférica levaram os dois principais protagonistas da corrida nuclear, Estados Unidos e União Soviética, a assinarem, em 1962, um tratado banindo qualquer tipo de explosão na atmosfera e nos oceanos. Como a corrida não iria parar, a solução foi realizar testes subterrâneos.
Naquele momento a sismologia ganhou espaço na era nuclear, pois se mostrou uma das melhores técnicas para avaliar a potência de uma explosão e de saber onde ela ocorreu. Monitorar o próprio teste era importante e, mais ainda, o do inimigo e, muitas vezes, também, do aliado. Isso fez crescer o número de estações sismográficas de qualidade. Um programa dessa época bem sucedido foi o norte-americano denominado WWSSN (Worldwide Standard Seismic Network), um conjunto de aproximadamente 120 estações sismográficas padronizadas espalhadas por vários países, fora da influência soviética. Sob o aspecto científico ele foi notável, pois melhorou a capacidade de detecção global dos terremotos. Basta lembrar que o simples aperfeiçoamento na determinação epicentral e focal dos sismos mundiais ajudou a firmar a teoria da tectônica de placas.
Nessa época, também surgiram os arranjos sismográficos que, diferente do sistema tradicional de uma única estação sismográfica, distribuía certo número de sismômetros em uma grande área do terreno. Apoiado em processamento computacional, o arranjo funcionava à semelhança de uma antena de radar, aprimorando não apenas a detecção dos sinais, como também calculando a direção de onde eles vinham e com que velocidades as ondas cruzavam os sensores, instalados no chão.
O Brasil abrigou duas estações da rede WWSSN. A primeira em Natal, em 1965, cuja operação inicial a cargo da Marinha passou posteriormente às mãos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em Brasília, a estação WWSSN, número 61, começou a operar em 1973. Antes, porém, patrocinado pelo governo Britânico e com apoio do CNPq e da UnB, foi instalado na área do Parque Nacional de Brasília um arranjo sismográfico de alta sensibilidade, constituído originalmente por 18 elementos. Tanto a estação de Natal como a de Brasília foram as sementes das quais nasceram os centros sismológicos locais. Brasília voltou a receber um outro sistema moderno em 1993, cujo objetivo primário também era registrar explosões nucleares.
Hoje existe uma organização ligada à ONU, denominada CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) com o objetivo de fazer cumprir um tratado internacional que bane por completo qualquer tipo de explosão nuclear. Para verificar o cumprimento do tratado, foi montada uma rede mundial com mais de 300 estações, usando quatro tecnologias diferentes para vigiar os continentes (sísmica), os oceanos (hidroacústica) e a atmosfera (infrassom e radionuclideos). Signatário do tratado, o Brasil abriga cinco daquelas estações, sendo 3 delas sísmicas, o que une, de certa maneira, a sismologia ao tema nuclear.
Vale um registro histórico.
Nunca houve confirmação oficial, mas tudo indica que em décadas passadas o Brasil procurou construir armas nucleares e, aparentemente, foi longe nesse intento – projeto dessa natureza inclui programas de testes. Em agosto de 1986, a mídia divulgou que, na área da base aérea de Cachimbo, Pará, existiriam instalações subterrâneas especiais, como um poço revestido de concreto, com cerca de 300m de profundidade e um metro e meio de diâmetro.
Em 18 de setembro de 1990, o então presidente Fernando Collor foi ao local e fechou, simbolicamente, a perfuração, jogando uma pá de cal em seu interior, fato transmitido à noite pelas televisões brasileiras. Ao ver a cena, atravessei a madrugada rascunhando um projeto, que imediatamente tomou forma e chegou ao Palácio do Planalto: nele eu pedia o poço para instalar parte de uma estação sismográfica moderna e de alta sensibilidade, que transmitiria dados diretamente à UnB. Apesar do mérito do projeto, fui informado de que a perfuração não poderia continuar existindo, pois pesaria sobre o nosso País a desconfiança de que aquela facilidade poderia, a qualquer momento, ser utilizada para fins militares. Assim, a pá de cal lançada no “buraco do cachimbo” também sepultou um possível grande projeto sismológico brasileiro.